 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|||||||||||||||||
|
|
O
vaivém dos "cambiteiros", carregando cana para as moendas, os
movimentos do mestre trocando a garapa entre os tachos, o passo lerdo
dos animais, o bulício contínuo do pessoal, homens, bichos e coisas
associados no mister da "moagem" produzem inalterável ritmo contido
numa energia sem desperdício, ação de nervos e músculos galvanizados
por uma continuidade de flagrantes expressivos.
Os "cortadores" atacam a facão recurvo a mancha verde luminosa do canavial maduro que se estende pelos baixos, dominando os brejos, ressaltando o viço das terras fertilizadas pelas aluviões e atiçam fogo no palhiço, transformando-o em clarão vermelho de fogueira, que rasteja celeremente pelos vales, espantando bichos, decompondo e empobrecendo o solo, reavivando na crônica, dos antigos engenhos, sabor romântico que a tradição alimenta. A cultura da cana-de-açúcar no vale do Cariri, vem dos tempos coloniais quando ali se instalou a primeira moenda de madeira, originando-se daí uma das fontes de riqueza da região com o desenvolvimento da indústria da rapadura. Teve assim a rapadura o seu berço nas terras caririenses, funcionando como base econômica, influindo na sistematização dos costumes, incorporando--se ao folclore, determinando novos caminhos ao progresso. A princípio os engenhos eram movidos por juntas de bois ou por água, este, aliás, o primeiro tipo de que se tem conhecimento, em virtude mesmo de ser também a água em abundância, elemento primordial na cultura da cana. Daí aproveitaram-se os cursos d'água para com eles movimentarem os engenhos que sucessivamente eram aperfeiçoados, desaparecendo aos poucos os de madeira para dar lugar aos de metal-ferro fundido e bronze, constituindo partes de seu mecanismo. Desaparecia, igualmente, a tração animal para ceder lugar a polias, caldeiras e dínamos, num intervalo que abrange do século XVII até os dias presentes. Dos engenhos antigos, poucos ainda funcionam com aparelhamento primitivo, tantas as modificações trazidas pelo tempo. Na ilustração inclusa, do veterano pesquisador e fixador de nossos costumes que é PERCY LAU, procuramos reconstituir uma cena de engenho de rapadura no clímax da moagem quando, o "mestre" com a cuia de prova (passadeira) à mão, transfere o mel chegando ao "ponto" do último tacho para as formas. Ao fundo, vê-se o "metedor" de cana manejando as moendas, cujo modelo, vertical e de madeira" é o mais primitivo. Essa tarefa requer cautela rigorosa que contribui para manter em silêncio o "metedor". Um menino tange os bois que andam em círculo sob as estocadas de um ferro. O toldo, de forma cônica é feito de palhas de palmeira. No primeiro plano, como se emergisse do chão, permanece vigilante o "metedor" de fogo, que alimenta as caldeiras, controlando a temperatura para o mel não "chichilar", ocorrência que, alterando a consistência do líquido fervente não permite, no tempo necessário, o endurecimento da rapadura. No último plano, alguns cambiteiros voltam ao local do corte com seus jericos, para novo carregamento. A rapadura constitui alimento substancioso que o sertanejo se habitua a ingerir desde que nasce. Além do tipo comum, de largo consumo, outros subprodutos do mel de cana são apresentados nas "feiras" ou no comércio varejista, com a denominação de "alfinim", "batida" ou "tijolo", cada um recebendo temperos diferentes e servidos como sobremesa; tanto na cozinha pobre quanto nas mesas ricas, a rapadura participa da culinária nativa com evidente importância. |
|
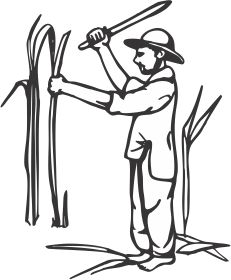 |
||
| Deixe seu comentário: | Deixe seu comentário: | |
| Correio eletrônico | ||
| Livro de visitas |